Onde e quando os adolescentes podem expressar suas frustrações, medos, ansiedades, sofrimentos, enfim? Em uma sociedade pouco aberta a acolher, a ouvir e a compreender, o adolescente sente-se muitas vezes perdido diante de pressões de diversas naturezas. A presença nas redes sociais é uma delas. Ninguém aceita colocar-se inteiro nas redes, sob pena de sujeitar-se ao bullying alheio. O ‘eu’ projetado e ideal é sempre diferente do ‘eu’ que sofre as dores do crescimento. O sofrimento fica então represado ou aparece de forma enviesada. “É a privacidade sem intimidade”, na síntese do psicanalista Christian Dunker, aqui entrevistado.
As famílias, especialmente aquelas de renda mais alta, oferecem aos filhos as condições objetivas que lhes parecem suficientes para que os adolescentes tenham um bom desempenho na vida e sejam felizes, dando-lhes boas escolas, ensino de idiomas, aulas particulares, viagens, lazer, mas às vezes isso vem junto com um adicional de expectativas e com uma saturação das agendas: “Eles têm sonhos demais para realizar”, lembra Dunker.
A surpresa aparece quando a resposta não vem em termos de um bom rendimento acadêmico e de sinais evidentes de felicidade; aparece quando o adolescente falha no plano acadêmico ou em termos de comportamento, através do abuso de substâncias proibidas ou de atos que colocam em risco a própria vida e o próprio corpo.
Na verdade, a proximidade entre adolescência e sofrimento é a regra, e não a exceção, aponta Christian Dunker: “Se olharmos para trás geralmente encontramos nossa adolescência como um momento de muita angústia e incerteza, cheio de decepções e descobertas, várias delas desagradáveis. Mas estranhamente quando olhamos em seguida para nossos filhos não conseguimos ver neles nada além de uma obrigação de satisfação e felicidade”.
A escola é palco e cenário desse drama adolescente. Acossada por múltiplas e crescentes demandas, a escola se vê à frente de mais este desafio – como acolher, entender e trabalhar com o adolescente que sofre?
Segundo Dunker, apresenta-se à escola o duplo desafio (muitas vezes inconciliável) de proteger o aluno das ameaças do contemporâneo e, ao mesmo tempo, de prepará-lo para enfrentar um futuro que ninguém sabe exatamente como será.
Muitas instituições procuram apostar em um modelo de futuro. Diz Christian Dunker: “Quando se fala em estar em sintonia com o futuro não se percebe o imenso preço a pagar quando se busca realmente isso. Quanto mais me fanatizo pelo futuro, maior o risco de embarcar em um mundo possível que jamais se realizará, que era apenas uma projeção deformada daquele presente, no qual se via aquele futuro”.
Não, não há solução simples para o complexo problema 
Se não há solução fácil para o sofrimento adolescente, um bom caminho para a família e a escola é ouvir, acolher e validar as representações de sofrimento relatadas por esses jovens. Como diz Dunker, “o sofrimento é maltratado quando recusamos a ele três condições: a palavra ou a escuta, o compartilhamento e o reconhecimento”.
Leia a íntegra da entrevista:
Pergunta: Até mais ou menos a Idade Média, crianças e jovens não eram socialmente valorizados. Havia todo o tipo de exploração da criança, inclusive do seu corpo. Pouco a pouco, crianças e adolescentes ganharam mais e mais proteção. Hoje, muitas famílias e grupos sociais tentam a todo custo preservar os filhos da ‘vida exterior’, das ameaças reais e imaginárias que poderiam atingir esses jovens. Quais são, a seu ver, as causas e as consequências desse tipo de ‘proteção’? Há uma medida razoável para isso?
Christian Dunker: “De fato, a invenção da infância como uma fase protegida e diferenciada que exige cuidados especiais e atenção específica torna-se mais clara somente a partir do século XVIII. Isso teve como precedente a nítida separação, firmada a partir do século XVI, entre a vida privada e a vida pública, entre a casa e a rua, como dois modos de existência que não se sobrepõem perfeitamente. Isso exigiu transformações no que chamamos de família, com a criação de lugares específicos para as crianças, como quartos separados e respeito a sua intimidade, que se consolidaram em meados de 1800.
É importante perceber que data desta época também a invenção da adolescência como uma fase intensa e decisiva da vida porvir, como uma espécie de crise necessária para o crescimento e como um primeiro confronto com as adversidades da vida, ao modo da tempestade e trovão (Sturm und Drang), como diziam os românticos alemães. Esta fase era exatamente o confronto entre a saída da família e a entrada no mundo do trabalho e do amor.

Ao passo que a geração Y (nascidos entre 1980 e 1990) estendeu tais expectativas de modo a incluir a infância. Graças à elevação da disponibilidade tecnológica e à prosperidade econômica seria possível criar filhos e educá-los para um novo ideal de realização de vida baseado na felicidade compulsória.
Tudo se passa então como se os desejos fermentados em 1968 e objetivados pelos "adultescentes" dos anos 1990 pudessem ser, finalmente, postos em prática, nos anos 2000, de forma soberana e incondicional, na maneira de criar filhos em famílias cada vez mais tentaculares, formadas por diversos casamentos e filhos criados conjunta e compartilhadamente.
Este é o peso que recaiu na geração Z (os nascidos entre 1990 e 2000) e que, no meio do caminho, viu formar contra si a inesperada experiência do retrocesso econômico. Junto com o declínio das narrativas clássicas de transformação do mundo, tanto de natureza religiosa quanto política. Junto com isso temos que acrescentar o avaliacionismo e a expansão das métricas de resultados para todas as áreas de nossa vida, em tempo real pelas redes sociais. O resultado desta combinação é um sentimento persistente de inadequação e fracasso. Nenhuma vida está à altura de tamanha massa de comparação.
Em um recorte de classes, podemos dizer que os mais pobres sofrem hoje com a dificuldade de construir sonhos tangíveis, enquanto os que têm mais recursos sofrem com o pesadelo de ter sobre suas costas sonhos demais para realizar.
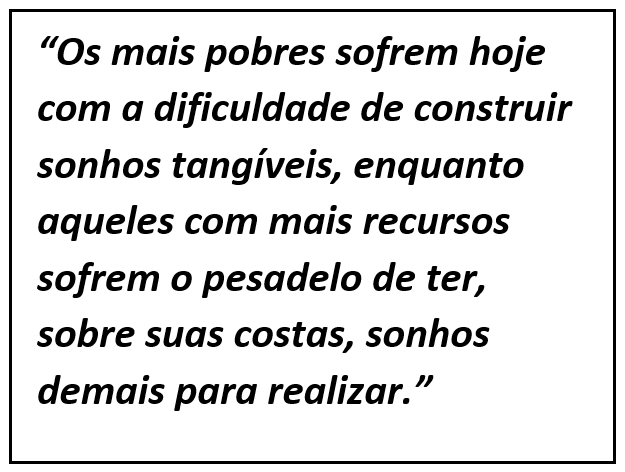 O que chamamos de “proteção” emerge como valor crucial no interior deste processo. Nossa moralidade desgarrou-se das narrativas tradicionais substituindo-as pelo que alguns chamam de sociedade de risco. O risco biológico, ecológico, jurídico ou cognitivo passa a ser um grande organizador de nossas estratégias desejantes. Surgem com isso ideais demasiadamente defensivos, pois o conceito de risco presume a defesa do que se tem.
O que chamamos de “proteção” emerge como valor crucial no interior deste processo. Nossa moralidade desgarrou-se das narrativas tradicionais substituindo-as pelo que alguns chamam de sociedade de risco. O risco biológico, ecológico, jurídico ou cognitivo passa a ser um grande organizador de nossas estratégias desejantes. Surgem com isso ideais demasiadamente defensivos, pois o conceito de risco presume a defesa do que se tem.
Junto com a mentalidade securitária vem o desejo de imunização contra a perda. Temos então duas atitudes básicas que formam uma gramática mais genérica segundo a qual ser protegido equivale a ser amado, proteger é amar e proteger-se é a marca do amor próprio. Em meio à incerteza a única máxima moral é não expor nossas crianças ao risco desnecessário, o risco que limita suas escolhas futuras, o risco que gera experiência adversas ou traumáticas. Dai o temor crescente de que os professores contaminem ou manipulem nossas crianças.
O outro lado desta equação diz respeito à complexidade de construção de limites. Um limite simbolicamente incorporado e realmente útil para sustentar nosso desejo é necessariamente formado por experiências de determinação (“isso não pode”, “isso deve”, “isso é o que esperamos de você”). Mas é também formado por experiências de transgressão e ultrapassagem de limites (“isto é uma exceção”, “agora não, mas depois talvez", “foi além da conta, por isso é preciso voltar atrás”).
Atravessar fronteiras e voltar a reconstitui-las é essencial. Quando o axioma moral da proteção ele se fixa em limites ao modo de regras de manual ou em indeterminação que como falsa liberdade. Um exemplo disso é a tradução direta do sistema de metas e bônus que encontramos no mundo laboral para o universo da educação e do cuidado.
Jovens da geração Z e os millenials se veem asfixiados com a dificuldade de transgredir 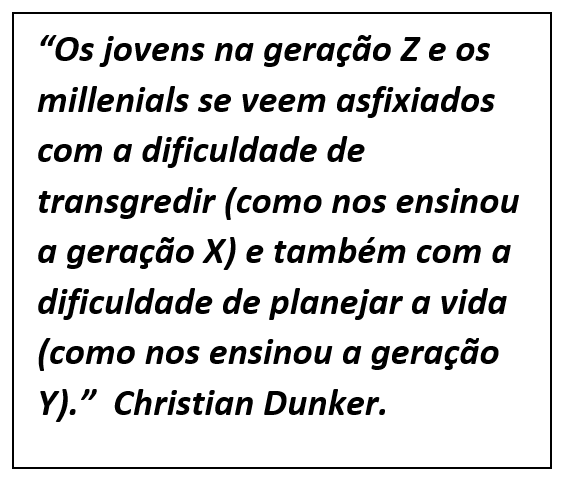 (como nos ensinou a geração X) e também com a dificuldade de planejar a vida (como nos ensinou a geração Y). Os pais, por seu lado, ficam divididos entre controlar administrativamente a educação de seus filhos (como prometido na geração Y) ou então deixá-los desamparados em uma expectativa irreal de crescimento e autonomia, de independência e sucesso (como desejado pela geração X).
(como nos ensinou a geração X) e também com a dificuldade de planejar a vida (como nos ensinou a geração Y). Os pais, por seu lado, ficam divididos entre controlar administrativamente a educação de seus filhos (como prometido na geração Y) ou então deixá-los desamparados em uma expectativa irreal de crescimento e autonomia, de independência e sucesso (como desejado pela geração X).
A atitude mais prudente aqui seria reintroduzir certa humildade na condução das escolhas educativas, respeitando que a quantidade de variáveis introduzidas recentemente requer algum respeito pela solução que ainda está por vir.
Pergunta: Convergem hoje para a escola demandas crescentes e diversificadas. Espera-se, de um lado, que a escola prepare o aluno para o mundo e, de outro, que proteja o aluno das ameaças representadas por esse mesmo ‘mundo externo’. Como o sr. vê essas demandas conflitantes? O que a escola pode fazer diante desse quadro?
Christian Dunker: Sim, são demandas conflitantes, mas o pior é que elas não são reconhecidas como tal. Uma coisa é olhar para a situação percebendo que se está a fazer demandas contraditórias, nas quais, cedo ou tarde, algo será perdido. Outra coisa é deixar-se iludir pela ideia que você terá liberdade e justiça, sem trabalho ou sem apostas arriscadas.

As escolas ficam cada vez mais pressionadas pelo apelo de responder ao que os pais querem ouvir, ainda que ambos saibam que o coeficiente de ilusão e autoengano, contido neste contrato, é elevado. Por exemplo, quando os pais de uma criança de 6 anos procuram uma escola, na qual, se tudo der certo, ela permanecerá os próximos 12 anos, eles querem saber se esta escola preparará seu filho para o mercado de trabalho, com suas habilidades específicas e genéricas, dando espaço para seus talentos e para seu raciocínio orientado para o futuro.
Ocorre que este futuro é datado. O que sabemos sobre como será o mundo daqui a 12 anos? Basta ler as tolices que se falava sobre educação 12 anos atrás para ver como o problema é crítico e facilmente nos induz ao erro. Exemplos: há pouco tempo acreditávamos na ideia mágica de que para aprender bastava um laptop para cada criança. Antes tivemos esta ideia de que bastaria torná-las fluentes em inglês. Agora estamos na era das escolas bilíngues. Enquanto isso as universidades realmente de ponta querem saber de soft skills: empatia, ética, capacidade de escutar o outro e responsabilidade social, o que ninguém no Brasil foi capaz de prever.
No fundo, queremos uma escola que consiga se reformular para o futuro conforme o futuro se redesenhe. Para garantir isso é preciso uma boa fotografia do presente para poder se separar dele e alguma coerência com 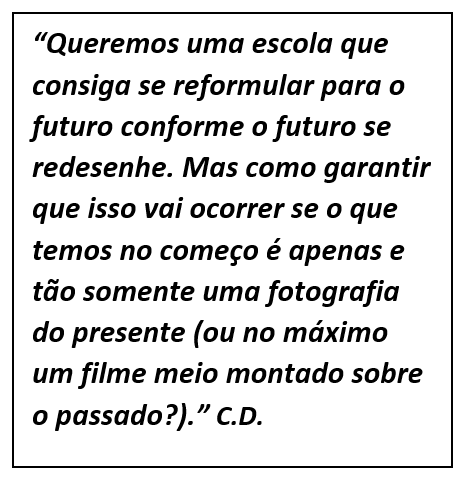 o passado.
o passado.
A escolha é de alta tensão, pois gostamos de escolhas de risco sempre pensando que é possível mudar de ideia no meio do caminho. No caso da educação as mudanças de rota são possíveis, mas limitadas. Depois de uma ou duas viradas os prejuízos sociais são frequentemente irreparáveis.
O conceito de escola vem sendo muito atacado justamente por isso. Ela resiste e se mostra anacrônica em relação a quase todos os outros aspectos de nossa atual forma de vida. Quantos casamentos duram uma jornada escolar? Quantos empregos ou moradias resistem a mais de 12 anos? Quantas profissões ou estilos de vida atravessam mais de uma década?
Estamos divididos em relação ao futuro, e esta talvez seja a atitude mais honesta e leal com relação aos nossos filhos. Neste caso podemos apostar em uma gramática de sacrifícios conhecida, com currículos mais ou menos básicos, sem grande respeito pelas aptidões singulares, mas com uma razoável chance de empregabilidade. Também aqui podemos estar impondo sacrifícios desnecessários e pior criando uma espécie de resistência, difícil de reverter depois, contra a vida em forma de vídeo game, com alta pressão por resultados e performance constante.
Um teste clínico importante para medir a temperatura desta questão é o seguinte: pergunte ao seu filho o que ele realmente acha da vida que vocês pais levam. Pergunte de forma a que lhe seja possível responder sincera e francamente, se é algo parecido com isso que ele quer para a vida dele. Considere que “isso” não é bem a vida real que vocês levam, mas a história ou a narrativa que ele constrói sobre isso, escutando vocês. Garanto que virão surpresas que podem orientar o tratamento da equação risco-segurança.
Pergunta: O que poderia haver de comum na trajetória de adolescentes de classe média que se suicidaram nos últimos meses? Diante desses fatos, houve reações de espanto e incredulidade envolvendo amigos, colegas, escolas, meios de comunicação e sociedade em geral. Por que esses jovens chegaram ao limite sem que ninguém aparentemente percebesse o sofrimento deles? O que é possível fazer para evitar que se chegue a situações extremas?
Christian Dunker: Os níveis de suicídio aumentam sem trégua, em quase todos os países do mundo, desde os anos 1980. O Brasil está no pelotão intermediário nesta matéria, ainda que com grandes variações entre estados. Mas é certo que se você tem entre 15 e 24 anos no Brasil hoje você está no grupo de risco para suicídio, que constitui a segunda ou terceira causa de mortalidade para esta faixa etária. Não queremos enxergar e não estamos acostumados a ler o sofrimento entre nossos jovens. Isso se deve a uma espécie de amnésia pela qual passamos ao longo da vida.
Quando olhamos para trás geralmente vemos que nossa 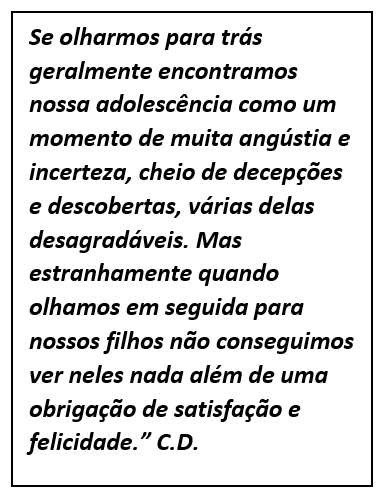 adolescência foi repleta de angústia e incerteza, cheia de decepções e descobertas, várias delas desagradáveis. Mas estranhamente quando olhamos em seguida para nossos filhos não conseguimos ver neles nada mais que de uma obrigação de satisfação e felicidade além de uma fartura de ofertas e talentos. Isso é ruim porque deixamos o sofrimento real impercebido e o negamos por meio de imagens encobridoras. Imagens que caem de uma vez com a descoberta de um sintoma ou de uma adição em álcool ou drogas.
adolescência foi repleta de angústia e incerteza, cheia de decepções e descobertas, várias delas desagradáveis. Mas estranhamente quando olhamos em seguida para nossos filhos não conseguimos ver neles nada mais que de uma obrigação de satisfação e felicidade além de uma fartura de ofertas e talentos. Isso é ruim porque deixamos o sofrimento real impercebido e o negamos por meio de imagens encobridoras. Imagens que caem de uma vez com a descoberta de um sintoma ou de uma adição em álcool ou drogas.
Uma pesquisa recente mostrou que cada geração, desde o pós-guerra, sente-se por volta de 3% a 4% mais solitária do que a anterior. É claro que a solidão é uma experiência subjetiva, que depende de uma autointerpretação. Podemos nos sentir solitários mesmo se tivermos muitos “amigos” em redes sociais ou muita popularidade na escola.
Mas é difícil não associar a solidão ao declínio de experiências de intimidade. A chegada da linguagem digital trouxe uma nova relação entre privacidade e publicidade, cada qual produzindo uma versão mais ou menos bem-acabada de si mesmo. Ora, esta versão para consumo local ou geral, exige dedicação constante e vigilância moral persistente. Trabalho que favorece a privacidade sem intimidade, que é de fato um fator protetivo contra o sofrimento.
O sofrimento, quando é maltratado, transforma-se frequentemente em sintoma. E o sofrimento é maltratado quando recusamos a ele três condições: a palavra ou a escuta, o compartilhamento e o reconhecimento. Temos vários exemplos de processos que representam potencial incremento de sofrimento, por exemplo, quando este sofrimento é refratário a uma narrativa, quando ele é vivido em silêncio, em vergonha ou raiva e sem ser incluído em um discurso coletivo.

Por outro lado, o sofrimento pode ser mal reconhecido quando ele é excessivamente institucionalizado, como às vezes pode ocorrer tanto em discursos codificados como os da psiquiatria ou da psicologia, mas também os da moral e de certas formas de religiosidade.
Argumentar que qualquer coisa é depressão, transtorno de pânico ou déficit de atenção ou processamento auditivo, assim como dizer que se trata de baixa autoestima, ou de falta de vergonha na cara são formas frequentes de nomear algo apenas para não fazer nada a respeito.
Muito da pergunta sobre o suicídio obedece a esta gramática: queremos saber os culpados apenas para nos eximirmos e continuarmos a fazer o que já fazíamos antes. A pergunta da culpa é em geral ruim quando se quer abordar o sofrimento. Mas ao contrário da busca pela responsabilidade ou pela implicação ela é fácil de ser respondida.
O incremento de formas de vida cada vez mais individualizadas e precocemente autonomizadas são um perigo para o tratamento do sofrimento. A racionalidade baseada no desempenho permanece cega, surda e muda ao compartilhamento, ao atribuir todo o sucesso ou o insucesso apenas ao próprio indivíduo, estimulando assim certas formas de sofrimento como tática para aumento de produtividade.
Recentemente, em um debate promovido pela embaixada do Brasil em Tóquio, discuti o caso de uma escola japonesa que decidiu que o horário do lanche estava gerando muita turbulência para os alunos e que isso prejudicava as aulas subsequentes, por isso decidiu-se que dali em diante as crianças deveriam comer seus lanches em silêncio.
Alguns meses depois surgiu uma “misteriosa” epidemia de crianças com acesso de vômito no ambiente escolar. Um bom exemplo de como induzimos sofrimento em nome da produtividade, mas também de como deixamos de reconhecer ou valorizar experiência que tratam ou mitigam o sofrimento escolar (a conversa com os amigos) e como isso favorecemos sintomas que, agora dissociados de suas condições de produção, podem gerar novas respostas institucionais. Isso tudo sem percepção, escuta ou modificação de nossa atenção ao sofrimento óbvio das pessoas.
Uma vez desconhecida a lógica do sofrimento seria possível hipotetizar campanhas de cuidado e de educação do caráter ou de estímulo à empatia, sem perceber que a escola não é apenas uma instituição de normalização de indivíduos orientados para um fim, ela é também uma comunidade de sujeitos que compartilham um processo.
Pergunta: Nos textos e livros de sua autoria o sr. fala de movimentos aparentemente contraditórios. De um lado, a sociedade tenta afastar-se do sofrimento, atribuindo-o aos perdedores, já que “winners não sofrem”. De outro, o sr. cita a “indústria do sofrimento”, que faz diagnósticos e prescreve drogas para os mais variados tipos de mal-estar psíquico. Como entender essa aparente contradição?
Christian Dunker: É verdade. Isso ocorre porque o sofrimento em si não muda as pessoas, não torna ninguém melhor nem pior. Tudo depende do que fazemos com o sofrimento, começando por identificar como ele é produzido e interpretado.
Durante muitos séculos, a paixão de Cristo foi uma narrativa mestre para avaliarmos a dignidade ou indignidade de nossos sofrimentos. Nós esperamos que um homem mostre seu sofrimento de um jeito e a mulher de outro, adultos e crianças, ricos e pobres, todos nós estamos submetidos aos códigos normativos de como devemos legitimar e expressar nosso sofrimento. Como temos que negá-lo ou exibi-lo, com orgulho ou vergonha. Cada cultura, cada época, cada família, tem uma maneira própria de lidar e de reconhecer qual sofrimento merece atenção e cuidado e qual deve ser “engolido” como parte da vida ou aceitação das tarefas incontornáveis da existência.
A morte e a finitude são exemplos de um tema que nos faz sofrer e que é incontornável e inexorável, assim como a degradação de nosso corpo e as regras para suportamos conviver com os outros. A esta condição não eliminável chamamos de mal-estar, a sua expressão como conflito local denominamos de sofrimento e quando este adquire autonomia em seu modo de expressão, na linha de uma coerção mental (por obrigação ou impossibilidade) chegamos aos sintomas. O mal-estar é um assunto filosófico. Os sintomas são da alçada de psicanalistas, psicólogos e psiquiatras. O sofrimento, por sua vez, nos toca a todos e por isso é de responsabilidade e da alçada de todos nós.
Este é um tema que toda adolescência que se preze vai enfrentar. Por isso, a questão do suicídio não é em si patológica, mas existencial. Neste sentido, colocar-se a pergunta se queremos e em que termos queremos passar para a “próxima fase” é uma pergunta importante, como uma pergunta aberta e solúvel em seu próprio tempo. Outra coisa são ideações suicidas, planejamentos e tentativas, avisos e comportamentos repetitivos de risco, que representam, frequentemente, uma coerção da experiência em uma determinada direção, seja ela impulsiva ou evitativa.
Estas gramáticas são múltiplas e existe certo conflito político para decidir qual se tornará prevalente em cada momento, inclusive com o afeto que deve lhe ser mais conveniente. Por exemplo, afirmar que a democracia está acima de tudo e os direitos humanos acima de todos define uma política para o sofrimento. Afirmar que os mais vulneráveis devem se acostumar com níveis mais elevados de sofrimento corresponde a outra política.

Nas dinâmicas de reconhecimento de sofrimentos adolescentes, observamos recentemente uma mutação do afeto – do medo para a raiva, depois da vergonha para a culpa. Isso ajuda a entender porque existe também uma espécie de deriva de sintomas. A anorexia, por exemplo, parece estar sendo substituída pelo cutting (cortar-se ou escarificar-se para, por meio da dor, alterar a experiência de angústia e de deslocalização corporal).
Perdedores e ganhadores apresentarão suas gramáticas de sofrimento neste contexto. Aquele que trabalha demais se queixará da falta de tempo, da insônia e do excesso de pressão. Já daquele que trabalha de menos espera-se uma queixa em torno da desvalorização de si, da falta de iniciativa ou das experiências de perda da capacidade de experimentar satisfação ou prazer com a vida. A depressão se torna a doença dos perdedores assim como a mania é o perfil dos candidatos bem sucedidos.
Podemos observar um fenômeno análogo se comparamos a situação do sofrimento no trabalho de vinte anos atrás, quando se pensava que o sofrimento atrapalhava a produção e se falava em ergonomia, doenças profissionais e redução do stress laboral. Hoje empresas induzem propositalmente sofrimento, indicando cortes programados de pessoas, estimulando a competição entre departamentos, criando jornadas desumanas ou precarizadas apenas porque este ‘a mais’ de sofrimento é, no cômputo geral, uma maneira eficaz de gerenciar pessoas para alcançar melhores resultados. Escolher uma escola é também determinar qual política de sofrimento você quer para seu filho.
Entre estas diversas políticas para o sofrimento há algumas com as quais é difícil concordar, por exemplo, aquela que afirma que todo sofrimento é um sintoma e todo sintoma deve ser curado ou tratado, em geral por um especialista ou por um conjunto de procedimentos. Tratamentos exclusivamente medicamentosos, feitos de modo crônico, sem revisão diagnóstica, com baixa participação do paciente sem reservar espaço algum para a palavra, para a interpretação ou trabalho subjetivo que alguém tem em relação a si parecem ser uma política muito simples e provavelmente equivocada. O mesmo se poderia dizer de seu contrário, a saber que apenas boas conversas ou reforços morais ou educativos seriam suficientes para enfrentar todas as formas de sofrimento e qualquer tipo de sintoma.
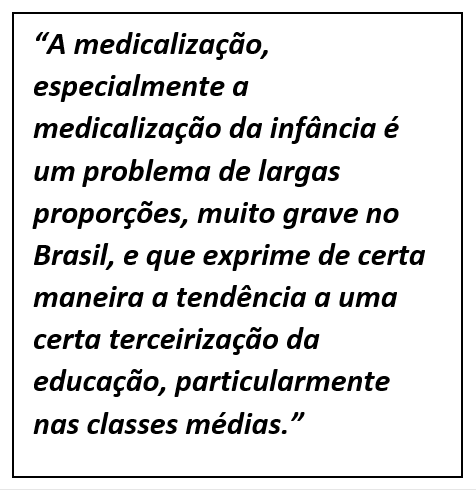 A medicalização, especialmente a medicalização da infância, é um problema de larga e grave proporção no Brasil. Há uma tendência para a certa terceirização da educação, particularmente nas classes médias. O excesso de diagnósticos indiscutidos, as narrativas que reduzem sintomas psicológicos a perturbações neurológicas exprimem apenas uma tentativa de monopólio sobre como o sofrimento deve ser reconhecido e tratado. A dor não é o sofrimento. O sofrimento depende de como o reconhecemos. Quando olhamos para o sofrimento como apenas uma sensorialização desagradável isso é sinal de que nossa narrativa para entendê-lo está muito empobrecida.
A medicalização, especialmente a medicalização da infância, é um problema de larga e grave proporção no Brasil. Há uma tendência para a certa terceirização da educação, particularmente nas classes médias. O excesso de diagnósticos indiscutidos, as narrativas que reduzem sintomas psicológicos a perturbações neurológicas exprimem apenas uma tentativa de monopólio sobre como o sofrimento deve ser reconhecido e tratado. A dor não é o sofrimento. O sofrimento depende de como o reconhecemos. Quando olhamos para o sofrimento como apenas uma sensorialização desagradável isso é sinal de que nossa narrativa para entendê-lo está muito empobrecida.
Isso é inviável terapeuticamente, indesejável eticamente e pouco produtivo para os objetivos educacionais. Ocorre que a medicalização é uma estratégia barata, que ganha reforço em uma série de estratégias de tratamento do sofrimento pela adição de substâncias, lícitas ou ilícitas, usadas para mitigar a angústia substituindo a palavra compartilhada e a escuta.
Pergunta: O sr. diz que a vida em condomínio, a vida entre muros, é uma espécie de patologia das nossas relações com o outro e com o espaço social. Nesse contexto, as pessoas não aprendem mais a lidar com as diferenças. Quais são as possíveis implicações desse tipo de relação na vida social e psíquica dos adolescentes?
Christian Dunker: A vida em forma de condomínio não foi apenas um ideal residencial surgido no Brasil dos anos 1970 e por si só uma maneira como qualquer outra de fixar moradia. A vida em forma de condomínio foi o modelo de um modo completo de conectar trabalho, desejo e linguagem em uma forma de vida moderna e profissionalizada, condicionada pela solução de certos problemas:
1. Diante da complexidade de lidar com a diferença representada pelo outro, com seus valores, com sua identidade, com sua visão de mundo, que pode ser inclusive ofensiva ou perigosa para a nossa própria, construímos um muro, real ou simbólico, pelo qual o outro ficará de fora, com toda a sua diferença e seu potencial incomodatício. Foi assim que as escolas brasileiras começaram a se definir cada vez mais pelo tipo de muro de exclusão que impunham aos seus pais e alunos.
2. Dentro destes muros habitarão apenas gente como a gente, com o mesmo perfil econômico e as mesmas disposições de consumo e idênticos valores de identidade. Isso implica a criação de um mundo artificial onde as coisas devem combinar com a própria pessoa. O estilo de vida feito à minha imagem e semelhança. Escolas podem ser planejadas com este conceito.
3. Isso cria o efeito indesejável, descrito como narcisismo das pequenas diferenças. Diferenças cada vez menores entre pessoas semelhantes, tenderão a gerar efeitos de desconforto, comparação e ajuizamentos de inadequação. Certos tipos de bullying que consistem em criticar ou atacar colegas de escola que não usam exatamente o mesmo tipo de vestuário ou frequentam as mesmas rotas de consumo são exemplos deste tipo de sintoma da vida em forma de condomínio. Há escolas em estrutura de condomínio nas quais a diversidade cultural e estilística é desestimulada.
4. O funcionamento condominial envolve uma separação estrita entre a dimensão institucional, impessoal, marcada pela produção contínua de regramentos anônimos e a comunidade “real” com suas regras e aplicações tácitas de regras. Esta separação se mostra de modo mais claro no tipo de autoridade desenvolvida pela função do síndico. Isso torna o professor uma espécie de gestor da aprendizagem, alguém que não tem autoridade própria e apenas segue princípios gerenciais e administrativos. Por outro lado, ele escolhe seletivamente como a regra será aplicada e principalmente quem e como se darão as exceções, geralmente seguindo a antiga lógica de favorecimentos e proteções aos amigos. É assim que a escola acaba reproduzindo políticas de sofrimento que tornam-se invisíveis aos seus próprios professores e funcionários.
5. O medo em relação aos estranhos e a inveja cultivada em relação aos conhecidos são os dois afetos mais característicos da vida em condomínio. Uma vez tornado invisível porque posto atrás de cancelas, muros e demais sistemas de invisibilização, a fantasia do interno se encarrega de tornar o outro, que lhe é diferente, alguém com quem ele não pode negociar, nem tratar, nem conversar. No limite, o diferente de mim torna-se perigoso. Ocorre que, do outro lado, aquele que reflete apenas o meu espelho torna-se cansativo, levando progressivamente aos sentimentos narcísicos de esvaziamento, falta de sentido, tédio ou apatia. É neste ponto que surgem, na escola, os fenômenos de violência disruptiva, de aumento de tensão intra-classe ou de silenciamento da partilha de afetos.
6. Adolescentes que se colocam em uma vida em forma de condomínio não são os que vivem em habitações deste tipo, mas que se relacionam com a alteridade segundo tais princípios. Eles sentem que a “lei” é um sistema de conveniências, que o sofrimento, assim como o conjunto da vida, pode ser controlado pela modulação da paisagem mental (por meio de drogas lícitas ou ilícitas) e que a diferença só pode ser tratada pela evitação do confronto ou pelo isolamento do outro. Por isso, quando se veem obrigados a conviver em situação na qual a reconstrução da realidade não se baseia em muros e em processos de segregação da diferença passam de um estado de excesso de autoconfiança e autodeterminação a sentimentos de impotência, perda de estima e vulnerabilidade. No fundo são as escolas que temem o risco, moral e cognitivo e que se consagram ao axioma da proteção securitária, incluindo tipicamente o uso de câmeras, de táticas de denúncia, vigilância discursiva ou de controle redutivo das experiências de diversidade.
7. No trato interpessoal as escolas em estrutura de condomínio entendem que as relações com outros estão sujeitas à mesma divisão entre uma comunidade benevolente, entendida como extensão do núcleo familiar e uma institucionalidade instrumental, entendida como extensão da força ou poder para reduzir o tamanho do mundo e ampliar reversamente o tamanho do ego. Elas criam uma escola que é um falso espaço público, porque governado pelas famílias, e um falso espaço privado, porque disciplinado e homogêneo na inflação de normas, regulamentos e disposições de conduta. Ao mesmo tempo há uma tolerância obscena com a homofobia, com a discriminação de formas de vida e corporeidades não convencionais.
8. Adolescentes que vivem em escolas em estrutura de condomínio são particularmente vulneráveis a decepções em relação a seus ideais e planos de vida. Frequentemente se queixam de indiferença em relação aos outros, mas também de dificuldade de narrativizar seu sofrimento, vivido como vergonha ou insucesso. Cedo se tornam indivíduos produtivos e adaptados, sem muito tempo para brincar e sem interesse pela diversidade cultural.
Pergunta: Ainda sobre a vida em condomínio, o sr. fala também que as pessoas imersas nesse tipo de vida sentem falta da vida em comum, da vida compartilhada, dos espaços comuns, de projetos coletivos e mais ambiciosos, que possam ir além do indivíduo solitário. Se é possível ousar prever o futuro, qual dessas alternativas tem mais possibilidades de prevalecer – o aprofundamento da vida condominial ou a ruptura com esse projeto e a consequente busca de projetos mais coletivos?
Christian Dunker: Penso que a vida em forma de condomínio é um sintoma social em transição no Brasil de hoje. As pessoas percebem cada vez mais a vida limitada e a autossegregação que acabam por se impor.

Nossos jovens anseiam por mais experiências no espaço público (como as bicicletas), por mais encontro com alteridades (daí o interesse por viajar ou viver fora do país durante algum tempo), por mais experiências produtivas de indeterminação (daí a procura por maior diversidade e heterogeneidade estética e até mesmo de gênero).
Por outro lado, a intolerância com a segregação, com a desigualdade e a injustiça torna-se cada vez mais importante entre os jovens que conseguem construir para si um futuro dotado de alguma espessura e densidade. Há mais interesse pela política e mais segurança para fazer experiências e invenções nas interações.
Creio, por outro lado, que outros sintomas estão se anunciando como sucessores da vida em forma de condomínio, a saber, a precariedade relacional crônica, o nomadismo profissional baseado na impossibilidade de assumir um lugar e o crescimento de jovens nem-nem (que nem trabalham, nem estudam e em geral permanecem por períodos longos na casa dos pais). A busca por projetos mais coletivos vai se chocar brutalmente com a hiperindividualização.



